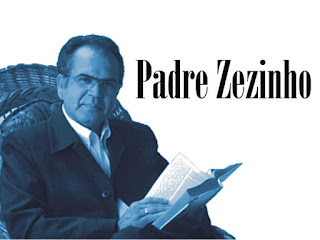Assembléia Litúrgica
participação de um povo sacerdotal na liturgia
a partir da Constituição Sacrosanctum Concilium
Pe. Cristiano Marmelo Pinto
“Desde o próprio dia de Pentecostes, a Igreja nunca deixou de reunir-se para celebrar o mistério pascal:
lendo tudo o que se refere a ele em toda a Escritura (Lc 24,27), celebrando a Eucaristia, na qual voltam
a fazer-se presentes a vitória e o triunfo de sua morte e, ao mesmo tempo, agradecendo a Deus
pelo dom inefável (2Cor 9,15) em Cristo Jesus, para louvar sua glória (Ef 1,12) pela força do Espírito Santo” (SC 6).
1. Introdução
A questão da assembleia é fundamental no que diz respeito à participação litúrgica. Compreender o papel da assembleia na ação litúrgica, sua sacramentalidade e finalidade são imprescindíveis para que a liturgia, renovada pelo Concílio Vaticano II, possa atingir a tão desejada participação de todo o povo de Deus na liturgia. Toda a renovação promovida pelo Concílio e promulgada no documento conciliar sobre a liturgia Sacrosanctum Concilium visa resgatar esta participação de todos na celebração litúrgica.
A celebração litúrgica não é uma reunião qualquer, muito menos um aglomerado de massa ou grupo de indivíduos sem algo comum, mas possui uma finalidade específica e atinge um grupo característico. A assembleia litúrgica difere-se de outros tipos de assembleia, porque é formada pelo povo de Deus, povo de sacerdotes, que participa do Sacerdócio único de Cristo (cf. LG 10; 11).
Toda celebração requer a participação de um grupo, ou seja, é preciso que um grupo de pessoas se reúna para celebrar. “Não existe culto plenamente litúrgico a não ser que seja celebrado para e por um povo reunido” (GELINEAU, 1973, p. 40). De fato, como afirma a constituição Sacrosanctum Concilium “a Igreja nunca deixou de reunir-se para celebrar o mistério pascal” (SC 6). Mas esta reunião não é um simples encontro de pessoas. É preciso formar um corpo, uma assembleia. Esta assembleia que se reúne para celebrar o mistério pascal de Cristo é o que chamamos de assembleia litúrgica.
Na celebração dos 50 anos do Concílio Vaticano II e mais especificamente da Constituição sobre a liturgia Sacrosanctum Concilium, queremos refletir sobre a assembleia litúrgica como participação de um povo sacerdotal na celebração a partir deste documento que é o marco de toda uma mudança de atitude e mentalidade e, que visa principalmente o resgate participação do povo de Deus de modo ativo na liturgia. Queremos compreender o sujeito da celebração e suas vertentes no contexto celebrativo.
2. Mas o que é uma assembleia litúrgica?
Levando em conta a conotação profana do termo, assembleia indica um grupo qualquer de pessoas que se reúnem para um determinado objetivo. Considerando o contexto religioso “a assembleia litúrgica é um grupo humano que se reúne e, no âmbito dessa categoria, um grupo orientado para uma atividade religiosa” (SPERA; RUSSO, 2005, p. 111). Este grupo humano que se reúne em assembleia para uma atividade religiosa é o povo de Deus, e no nosso caso, o povo cristão, comunidade de fiéis unidos pela fé e pelo batismo que nos constitui povo de Deus.
A primeira vista, quando falamos de reunião, vem-nos a mente de que para reunir-se é preciso estar disperso. No entendimento de Argárate “reunião é voltar a unir-se. E se é voltar a unir-se, previamente é necessário uma certa des-união ou dispersão. Por sua vez, a partícula ‘re’ implica que antes da des-união havia uma sólida união. Desse modo, re-união leva-nos a voltar a uma unidade primeira” (ARGÁRATE, 1997, p. 57).
A comunidade-Igreja reúne-se para um fazer especial, marcadamente comunitário. Até podemos dizer que essa comunidade existe para esse fazer. A essência da comunidade é o reunir-se para o fazer litúrgico. A comunidade-Igreja ordena-se principalmente para o fazer da liturgia. A Igreja é a comunidade da liturgia, do fazer celebrativo do mistério do Senhor (ARGÁRATE, 1997, p. 58).
Desde cedo, usou-se o termo ekklesía para expressar a reunião dos cristãos. “A significação literal imediata do termo seria chamado, reunião, comunidade, igreja” (BERNAL, 2000, p. 111). Ekklesía transliterado para o latim Eclésia são versões da palavra hebraica qahal, que “designa a convocação para uma assembleia e o ato de reunir-se. A melhor maneira de traduzi-la seria por chamado” (COENEN, apud BERNAL, 2000, p. 111). Na sua concepção mais antiga e originária, ekklesía fazia referência à comunidade do povo de Deus convocada e reunida para celebrar a liturgia. Segundo Spera (2005, p. 112), “os autores mais antigos que descrevem a liturgia mais primitiva indicam como sua principal característica e seu começo o fato de reunir-se, de deslocar-se e de chegar a um mesmo lugar para encontrar-se e ficarem todos juntos”. Porém, a assembleia litúrgica não se reúne espontaneamente, mas sim, por um chamado, uma convocação que tem sua origem em Deus. “Assembleia, em compensação, é a reunião da Igreja, do povo de Deus, convocado pela Palavra do Senhor, em um lugar concreto e num momento preciso para celebrar os mistérios do culto” (BERNAL, 2000, p. 111). É por esse motivo que no início da celebração, após a saudação do presidente, a comunidade responde: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. É Deus quem nos convoca e reúne no amor de seu Filho Jesus. A comunidade dispersa, ao ouvir o chamado de Deus atende sua convocação e se reúne.
Os que se sentem unidos por diversos vínculos de conhecimentos, afeto, parentesco, amizade, relação profunda, mais que, na vida ordinária, se acham dispersos, separados, re-unen-se, isto é, voltam a unir-se, a exprimir a sua vinculação unitiva, de modo sensível, por meio de uma presença física de reciprocidade (MALDONADO, 1990, p. 163).
Para nós cristãos, o vínculo que nos faz reunir-se para celebrar é a fé em Jesus Cristo e o nosso batismo, que nos torna, todos, povo de Deus. Deste modo, manifesta-se a Igreja reunida para celebrar o mistério pascal de Cristo. “Essa Igreja mostra-se, assim, como a grande força unificante no mundo, o lugar onde todos os homens são um. E essa unidade se alcança não suprimindo as diferenças, mas conservando-as” (ARGÁRATE, 1997, p. 58). A liturgia manifesta a verdadeira natureza da Igreja (cf. SC 2).
Conforme Beckhäuser (2012, p. 17): A liturgia constitui a maior epifania ou manifestação da Igreja. Ela mostra a Igreja aos que estão fora dela, como estandarte erguido diante das nações, a fim de que se estabeleça a verdadeira união entre os cristãos e todos sejam congregados até que haja um só rebanho e um só pastor.
Cada membro da Igreja participa da assembleia litúrgica de modo diferente, segundo a diversidade de ministérios e funções (cf. SC 26; LG 11).
3. Assembleia litúrgica e participação de um povo sacerdotal
A celebração litúrgica é obra de Cristo sacerdote e de seu corpo, a Igreja, ou seja, do “Christus Totus” (Cristo total, cabeça e membros). Não encontramos nos Evangelhos nenhuma referência ao sacerdócio. No Novo Testamento, e mais precisamente em Paulo na Carta aos Hebreus, há somente um único sacerdócio, um único sacerdote e mediador: Jesus Cristo (cf. Hb 4,14.8,1. 10,19-21). É na Primeira Carta de Pedro que irá aparecer à participação do cristão no sacerdócio de Cristo (cf. 1Pd 2,4-5.9).
Sobre a presença e atuação de Cristo na liturgia, a constituição Sacrosanctum Concilium dedicou um artigo inteiro (cf. SC 7). Nele afirma-se que Cristo está sempre presente à sua Igreja, de modo especial nas ações litúrgicas. Cristo age unido à Igreja e por isso, a liturgia é o exercício do sacerdócio de Cristo. “Toda celebração litúrgica, pois, como obra de Cristo sacerdote e de seu corpo, a Igreja, é ação sagrada num sentido único” (SC 7). É toda a comunidade que, unida a Cristo, celebra a liturgia. “A assembleia reunida para celebrar a liturgia se apresenta como comunidade sacerdotal. Ela exerce e atualiza o sacerdócio eterno e único de Jesus Cristo” (BERNAL, 2000, p. 122). É neste sentido que a constituição irá afirmar que: “as ações litúrgicas não são ações privadas, mas celebrações da Igreja, sacramento da unidade” (SC 26). Assim sendo, as ações litúrgicas já não são mais privativas dos ministérios ordenados, mas atos de toda a Igreja, e por isso deve-se preferir, na medida do possível, a celebração comunitária em que cada um deve desempenhar aquilo que lhe cabe (cf. SC 26; 27; 28).
A Igreja é uma comunidade de caráter sacerdotal (cf. SC 7). “A liturgia, exercício do sacerdócio de Cristo, torna-se visível na Igreja e por meio da Igreja” (SPERA; RUSSO, 2005, p. 113). A mediação sacerdotal de Cristo é visibilizada, prolongada e manifestada por meio da comunidade dos batizados. Como afirma a constituição Lumen Gentium: “os batizados consagram-se para serem edifício espiritual e sacerdócio santo, a fim de, por meio de toda a sua atividade cristã, oferecerem sacrifícios espirituais e proclamarem as grandezas daquele que das trevas nos chamou para a sua luz maravilhosa” (LG 10). O Concílio procurou recuperar a função sacerdotal de todo o povo de Deus na assembleia litúrgica.
O Concílio faz então uma distinção entre, de um lado, o sacerdócio comum ou sacerdócio dos batizados e, de outro lado, o sacerdócio ministerial dos bispos e presbíteros. Não se trata de dois sacerdócios. Ambos são expressão e participação do mesmo e único sacerdócio, o de Jesus Cristo. O sacerdócio comum não deriva ou não está abaixo do sacerdócio ministerial (BUYST, 2012, p. 38).
O fundamento do sacerdócio é o batismo (cf. LG 14; 31, AA 3). Porém, Cristo está representado na Igreja, como cabeça de seu corpo, por meio do sacerdócio ministerial. Embora diferente do sacerdócio batismal de todos os fiéis em essência e grau, ordena-se para este. “O sacerdócio ministerial e o sacerdócio comum dos fiéis, ambos expressão de uma Igreja povo sacerdotal, precisam um do outro e se completam reciprocamente para realizar o culto verdadeiro (MARTÍN, 1996, p. 207).
O sujeito integral da liturgia é sempre a Igreja, mas seu sujeito último e transcendente é Jesus Cristo, que fez da Igreja seu corpo sacerdotal. A assembleia litúrgica é portanto, a reunião da Igreja, povo sacerdotal de Cristo, para celebrar pelo vínculo da fé e do batismo, o mistério pascal de Cristo. Assim, como define Catecismo da Igreja, “na celebração dos sacramentos, a assembleia inteira é o litúrgo, cada um segundo a sua função, mas na unidade do Espírito, que age em todos” (CIC, 1144).
4. Características da assembleia litúrgica
O centro de toda assembleia litúrgica é a presença do Cristo ressuscitado no meio dela. De fato, foi o próprio Jesus Cristo quem prometeu que “onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles” (Mt 18,20). A essa presença de Jesus corresponde a fé confessada da comunidade reunida. A assembleia litúrgica é então, a reunião motivada pela fé em Jesus Cristo ressuscitado. “A assembleia litúrgica parte da fé, sendo ela própria uma confissão de fé no Senhor ressuscitado” (SPERA; RUSSO, 2005, p. 115).
A assembleia litúrgica, reunida na presença de Cristo, possui suas características. Vejamos algumas dessas características.
1ª) A assembleia litúrgica é um grupo ao mesmo tempo unitário e diverso: a assembleia deve ser um fator de unidade de todos os que dela fazem parte. Ela deve ser um espaço de acolhida cordial de todos que chegam para celebrar o mistério do Senhor. A assembleia é composta de pessoas que possuem muito em comum, mas que também, tem suas diferenças. Por isso, mesmo que seja um ato eclesial, ninguém perde sua identidade particular.
A assembleia litúrgica deve ser aberta e, portanto, plural, heterogênea, matizada, sinal da universalidade do amor do Pai, da catolicidade do seu desígnio salvífico, da solidariedade ilimitada suscitada pela liberalidade da sua vontade libertadora. O único requisito para ser admitido a ela é a fé (MALDONADO, 1990, p. 167).
2ª) A assembleia litúrgica é carismática e hierárquica : significa que a assembleia litúrgica não é um amontoado de indivíduos anônimos, mas uma comunidade de fiéis que possui carismas e dons e é estruturada de maneira hierárquica. Essa característica é traduzida no plano prático através dos diversos ministérios e funções exercidas na celebração. Esses ministérios e funções devem ser desempenhados para o bem de todos.
Há, no entanto, na assembleia, um princípio de distinção entre as pessoas, que não deriva da consideração mundana, mas de sua natureza orgânica e de seu próprio mistério: sua estrutura hierárquica. Todavia, não deve essa estrutura abafar os carismas de seus membros.
Essa estrutura é somo que bipolar: de um lado, a presidência, sinal pessoal do Senhor, servo e sacerdote; do outro, o povo, sinal da Igreja, a exercer seu sacerdócio batismal. Em torno desses dois pólos, desenvolve-se certo número de serviços. Ao pólo da presidência estão antes ligados os serviços da Palavra, da oração e da mesa; ao lado do povo, os da acolhida, das ofertas e do canto (GELINEAU, 1973, p. 65).
3ª) A assembleia litúrgica é uma comunidade que supera as tensões: a assembleia litúrgica, por ser a reunião de indivíduos e grupos, possui suas tensões. Mas essas tensões devem ser superadas. “Há uma contínua tensão entre o indivíduo que vem à assembleia e a ação simbólica que lhe é proposta pela liturgia” (GELINEAU, 1973, p. 66-67). O fato de serem todos crentes não significa que concordam imediatamente com a celebração. Há dois aspectos nessa tensão: por um lado, refere-se à própria realidade da ação proposta, ou seja, deixar-se julgar e converter ela Palavra; morrer e ressuscitar com Cristo; comungar com Deus e com os irmãos. É o que Paulo fala a respeito da necessidade de revestir-se do homem novo (cf. Ef 4,24). Por outro lado, refere-se aos sinais nos quais esse mistério é proposto, ou seja, linguagem parcialmente desconhecida, pessoas com quem celebro, que não escolhi, que não são todas conhecidas, cantos e textos que não são minha escolha, mas propostos pela liturgia.
A assembleia é uma comunidade que supera as tensões entre o indivíduo e o grupo, entre o subjetivo e o objetivo, entre o particular e o que é patrimônio comum, entre o que é somente local e o que é universal, etc. A assembleia não anula, integra; e isso não só no nível do eu e do tu no nós – abertura e encontro interpessoal, mas também no nível histórico e contingente com o transcendente e eterno, ou seja, com o mistério de salvação e a graça de Cristo, que autentica o encontro das pessoas nesse horizonte comunitário (MARTÍN, 1996, p. 209).
4ª) A assembleia litúrgica é polarizante: dizer que a assembleia litúrgica polariza significa que ela oferece um canal de expressão e de comunicação aos sentimentos dos que estão presentes na celebração. Significa dizer que a assembleia além de centrar os sentimentos de cada pessoa em torno de um determinado valor religioso, ela também concentra nele os sentimentos da comunidade inteira que partilha a mesma experiência de fé e de oração.
A assembleia polariza e proporciona meios de expressão e de comunicação aos sentimentos dos presentes, por mais contrastantes que possam mostrar-se (SPERA; RUSSO, 2005, p. 116).
5. A participação da assembleia na celebração litúrgica
O grande anseio da renovação litúrgica promovida pelo Concílio Vaticano II é resgatar principalmente a participação de toda a comunidade na celebração. Para isso empenhou-se em tornar o rito litúrgico mais claro, simples, sóbrio, conforme as características da liturgia celebrada no início da Igreja. Compreender o papel da assembleia litúrgica na celebração é fundamental para resgatar a sua participação e evitar certos equívocos ou até mesmo atitudes “populistas” de quem considera promover a participação da assembleia, confundindo os papéis de cada ministério e função na celebração. O documento conciliar diz que a Igreja procura fazer com que os fiéis estejam presentes na liturgia, não como estranhos espectadores, mas como participantes conscientes e ativos (cf. SC 48).
Há todo um jogo na expressão dos gestos e na linguagem da celebração litúrgica para indicar, por exemplo, que algumas vezes é a assembleia toda que atua, ou os membros individualmente, ou aquele que preside, fazendo o que lhe cabe em nome de todo o povo santo, ou dialogando com os fiéis (MARTÍN, 1996, p. 209).
Qual o significado da palavra “participar”? Participar vem do latim tardio (partem-capere, participare, participatio) e significa intervir, assistir, aderir, ter parte. Participare – participatio indicam, na linguagem litúrgica, uma relação com, ter algo em comum com, estar em comunhão. Participação expressa portanto, relação, comunicação, identificação, unidade. Esses termos são usados para referir-se à participação no mistério celebrado. Participação na liturgia significa ter parte na ação litúrgica, na vida liturgia. Não como “espectadores mudos” (SC 48), mas de modo consciente, ativo e frutuoso (cf. SC 11; 48; 114). “Participar da ação litúrgica significa ter parte no mistério que está sendo celebrado” (BUYST, 2002, p. 103).
A participação na liturgia envolve três aspectos:
1) A ação de participar, mediante atos humanos (gestos, ritos) e atitudes internas, suscetíveis a variar de intensidade ou de modalidade;
2) O objeto da participação, ou seja, aquilo de que se participa, que não é somente um ato, ritual e simbólico, mas também o conteúdo misterioso que se celebra ou se atualiza (o acontecimento salvífico);
3) As pessoas que tomam parte na celebração, isto é, ministros e fiéis, cada um segundo o grau próprio de sua função na liturgia.
Antes de qualquer tentativa de compreender como se dá a participação na liturgia, é preciso ter em mente que é toda a assembleia o sujeito da liturgia e não apenas os ministros ordenados (cf. SC 48). Sendo, pois, sujeito da celebração, todos dela devem participar. Significa que a participação da assembleia é parte integrante da ação litúrgica que tem sua origem e fundamento no sacerdócio batismal de todo cristão (cf. SC 14; LG 10-11). A participação na liturgia é um direito e um dever de todos. Ela não é algo privativo, de apenas alguns, mas de todos. É o que diz o Concílio quando afirma que: “as ações litúrgicas não são ações privadas, mas celebrações da Igreja, que é o sacramento da unidade, isto é, o povo santo, unido e ordenado sob a direção dos bispos” (SC 26). Por isso é preciso promover a participação de todos na liturgia.
A Igreja deseja ardentemente que todos os fiéis participem das celebrações de maneira consciente e ativa, de acordo com as exigências da própria liturgia e por direito e dever do povo cristão, em virtude do batismo, como “raça eleita, sacerdócio régio, nação santa e povo adquirido”. Procure-se, por todos os meios, restabelecer e favorecer a participação plena e ativa de todo o povo na liturgia. Ela é a fonte primeira e indispensável do espírito cristão (SC 14).
A Constituição Sacrosanctum Concilium apresenta o ideal da participação na liturgia. Vejamos:
a) Participação plena, consciente, ativa e proveitosa (SC 11; 14);
b) Participação interna e externa (SC 19; 110);
c) Participação em ato (SC 26);
d) Participação própria dos fiéis e comunitária (SC 114);
e) Participação em assembleia (SC 121);
f) Participação ordenada e harmoniosa (SC 18; 19).
A participação na liturgia é algo interno e externo (cf. SC 11), algo que envolve toda a pessoa, de forma que as atitudes interiores coincidam com o gesto ou a ação exterior. Deve ser consciente (cf. SC 14), além de ativa e plena. Quanto aos elementos da participação na liturgia exposto pelo Concilio Vaticano II, vejamos alguns deles.
a) Participação ativa: participar da celebração de forma ativa sugere ação de todos. Significa em primeiro lugar “querer encontrar-se com o Senhor, responder a seu convite” (BUYST, 2002, p. 104). Significa querer encontrar-se com os irmãos na fé, povo sacerdotal. Em segundo lugar significa participar ativamente de todas as ações litúrgicas, cada qual exercendo a sua função;
b) Participação interna e externa: a participação na liturgia tem dois aspectos, um interno e outro externo. O que realizamos externamente (gestos, palavras, canto, movimentos...) devem ter repercussão interior, ou seja, deve atingir nossa interioridade, nosso coração. É deixar-se mergulhar, através dos gestos e sinais, no mistério do Senhor;
c) Participação consciente: significa que nossa mente deve acompanhar nossas palavras e gestos. Como dizia São Bento: “que nossa mente concorde com o coração”. Participar conscientemente trata-se de que precisamos compreender cada gesto, palavra, símbolos da liturgia. É uma compreensão que vai além do puro raciocínio, é deixar-se tocar pelo mistério do Senhor, e poder ver em tudo que se realiza na liturgia a expressão desse mistério;
d) Participação plena: trata-se de participar de maneira integral, ou seja, se entregar por inteiro no que está sendo celebrado. Identificar-se com o mistério celebrado e deixar-se tomar por ele e se transformar. É o que diz São Paulo: “Já não sou eu que vivo, pois é Cristo que vive em mim. E esta vida que agora vivo, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim” (Gl 2,20);
e) Participação frutuosa: significa que a participação na celebração litúrgica deve produzir frutos na vida de quem dela participa. Ela deve ser traduzida em ações, em compromisso no dia-a-dia das pessoas. Em outras palavras, significa dizer que a liturgia deve produzir frutos de conversão e transformação em nossa vida, ter continuidade fora do momento celebrativo.
Em vista de uma melhor participação na liturgia, o Concílio procurou concretizar os meios possíveis para que a participação da assembleia aconteça. Para isso é necessário:
a) Formação litúrgica (SC 14-19);
b) Catequese litúrgica e de admoestações oportunas no desenvolver dos ritos (SC 35,3);
c) Ritos simplificados (SC 34);
d) Fomento dos cantos e das respostas, dos gestos e das posturas corporais, assim como do silêncio na celebração (SC 30);
e) Introdução da língua vernácula (SC 36,2);
f) Inculturação da liturgia (SC 37-40);
g) Ampliação das leituras da Palavra de Deus na liturgia (Sc 24);
h) Homilia (Sc 35,2);
i) Revisão dos testos e dos livros litúrgicos (SC 21; 25).
7. Concluindo...
A liturgia é a celebração de todo o povo de Deus, Corpo de Cristo (Cabeça e membros). A assembleia que celebra a liturgia é manifestação da Igreja e sujeito da liturgia. Na liturgia, a Igreja se manifesta como povo sacerdotal, que celebra o mistério da fé. Esse povo sacerdotal é constituído pelo batismo, que nos faz todos participantes do único sacerdócio de Jesus Cristo. Embora diferentes em grau e essência, o sacerdócio batismal e o sacerdócio ministerial está um ordenado para o outro.
A assembleia litúrgica é a reunião da Igreja, povo sacerdotal de Cristo, para celebrar pelo vínculo da fé e do batismo, o mistério pascal de Cristo. Desse modo, podemos concluir que a participação da assembleia na liturgia consiste em, deixar-se tomar pelo mistério celebrado e dele participar de modo ativo e consciente. Se compreendermos bem o papel da assembleia na liturgia, seus ministérios e funções, poderemos promover então o que deseja o Concílio Vaticano II, na Constituição sobre a liturgia Sacrosanctum Concilium: uma participação ativa, interior e exterior, consciente, piedosa, plena e frutuosa.
Ainda nos falta muito por fazer. Precisamos arregaçar as mangas e ajudar o nosso povo a celebrar cada vez melhor. A promoção da participação da assembleia na liturgia cabe tanto aos pastores (bispos e presbíteros), como também aos membros da pastoral litúrgica. Então, mãos a obra!
Referências bibliográficas:
CONCÍLIO ECUMÊNICO VATICANO II. Constituição Sacrosanctum Concilium sobre a sagrada liturgia. (Coleção: A voz do papa 26). São Paulo: Paulinas, 2002.
ARGÁRATE, Pablo. A Igreja celebra Jesus Cristo: introdução à celebração litúrgica. São Paulo: Paulinas, 1997.
BERNAL, José Manuel. Celebrar, un reto apasionante: bases para una comprensión de la liturgia. Salamenca/Madrid: San Esteban/Edibesa, 2000.
BUYST, Ione. Participar da liturgia. São Paulo: Paulinas, 2012.
BUYST, Ione; SILVA, José Ariovaldo da. O mistério celebrado: memória e compromisso I. Valencia: Siquem, 2002.
GELINEAU, Joseph. Em vossas assembleias 1: teologia pastoral da missa. São Paulo: Paulinas, 1973.
MALDONADO, Luis. A celebração litúrgica: fenomenologia e teologia da celebração. In: BOROGIO, Dionísio (org.). A celebração na Igreja 1: liturgia e sacramentologia fundamental. São Paulo: Loyola, 1990, p. 161-175.
MARTÍN, Julián López. No espírito e na verdade: introdução teológica à liturgia. Petrópolis: Vozes, 1996.
SPERA, Juan Carlos; RUSSO, Roberto. A assembleia celebrante. In: CELAM. Manual de liturgia: a celebração do mistério pascal – fundamentos teológicos e elementos constitutivos. São Paulo: Paulus, 2005, p. 111-141.